José Lima
O livro Arquitetura Nova, de Pedro Arantes, retoma elos históricos da arquitetura com a vida cultural e política do país e reconstitui a história passada e presente de uma prática profissional revolucionária inspirada no canteiro de obras
Há não muito tempo atrás os assuntos de arquitetura pareciam interessar a um público bem maior que o atual e vice-versa, de maneira tal que mesmo uma questão especialmente complicada como a das relações de produção no canteiro de obras podia despertar a curiosidade de muito artista, estudante e gente não especializada no país. Isto certamente tinha a ver com uma época marcada por grandes projetos coletivos, mas também se referia à preeminência desta área de trabalho que, desde a década de 1950, gozava de boa fama no estrangeiro e status de arte nacional melhor identificada ao movimento contemporâneo de modernização e industrialização. É possível que o tom progressista no discurso dos arquitetos modernos então mais atuantes -- Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Vilanova Artigas, entre outros -- correspondesse ao sentimento de missão e altivez incutido na profissão, independentemente da confiança que se pudesse nutrir no papel civilizador ou revolucionário da burguesia nacional. Mas, pelo menos até a crise dos anos 1960, deve ter sido decisiva entre estes a compreensão do progresso nacional como superação de etapas em um país periférico, retardado na cadeia do desenvolvimento. Certo ou errado que estivessem, ao menos um elo entre arquitetura e dimensão pública perdurava. Um dos méritos do livro de Pedro Fiori Arantes, Arquitetura Nova -- Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos mutirões, está precisamente em retomar os elos históricos com a cultura e a política de uma matriz de atuação dissidente (os expoentes do movimento que ficou conhecido como "Arquitetura Nova") em relação ao processo gradual de exclusão dos arquitetos da vida pública. Não por acaso o seu objeto escapa aos limites da discussão específica, sendo o tempo todo reenviado a uma teoria da periferia como formação singular do capitalismo central, produzindo e repondo localmente defasagem, privilégio e desigualdade a partir de nexos inescapáveis com o núcleo dinâmico do sistema. Em duas palavras, o livro apresenta a utopia de uma arquitetura revolucionária inspirada no canteiro, extraindo os contornos de seu tema do confronto direto com a história. Não custa lembrar que, no caso, essa se desenrola em plena solução contra-revolucionária em favor do capital (os anos do regime militar), no interior da qual ganhava força a hegemonia cultural da esquerda. É verdade que na esteira do modernismo, o momento urbano-industrial centralizado pela construção de Brasília [1956-1960] observou enorme aproximação entre elites culturais e povo, com evidentes ressonâncias na produção artística e arquitetônica, em estratégias profissionais e programas governamentais Brasil afora. Contudo, tanto em matéria de urbanismo quanto de habitação popular, a tendência permaneceu quase sempre alheia às imposições produtivas da arquitetura. A experiência Brasília acentuava contradições entre pretensões de síntese artística, urbanística e nacional-desenvolvimentista e a realidade catastrófica do trabalho no canteiro da cidade. As políticas habitacionais, por sua vez, submetiam todo objetivo social à lógica do capital de incorporação, priorizando faixas de renda mais altas, financiando apartamento de luxo e construindo moradia de pobre de modo prioritariamente conservador, economizando nas técnicas e não apenas no número irrisório ante o crescimento das favelas, cada vez mais precariamente edificadas e ameaçadas de remoção. As soluções mais criativas, em comércio com a cultura popular e as formas tradicionais de construção, mostravam-se então incapazes de avançar política e socialmente sobre a situação sem-saída das novas massas urbanas. Contracultura pós-64 Salvo engano, está aí a zona fundamental de atuação da contracultura arquitetônica no Brasil dos anos revolucionários e abafados da década de 1960. O longo ensaio de Pedro Arantes é extremamente habilidoso na montagem de um complexo roteiro de enquadramentos e conexões. Principalmente na articulação de três grandes conjuntos de questões: os impasses da cultura e da política de esquerda na modernização capitalista do país; o processo de divisão social do trabalho e a emergência do povo trabalhador na história do projeto e da política habitacional; o papel histórico da arquitetura de São Paulo e de certas personalidades, instituições e obras na compreensão dos dilemas políticos, teóricos, pedagógicos e profissionais dos arquitetos brasileiros em tempos de ditadura. Assim, o alinhamento destas três figuras admiráveis, ao mesmo tempo discretas e audaciosas -- Flávio Império, Sérgio Ferro e Rodrigo Lefèvre -- surge como expressão mais radical das inquietudes de uma geração em tempo de guerra, inconformada ante os compromissos anteriores da esquerda (e dos arquitetos de esquerda) com o capitalismo e o populismo. O Golpe de 64 definitivamente lhes impedindo de fazer vista grossa à atualidade dos aspectos arcaicos da sociedade brasileira -- não mais considerados resíduo ou acidente no processo de desenvolvimento -- no movimento rotineiro de acumulação e dominação capitalista. Assim, também, esta geração crítica, ativa e dinâmica -- recém-formada no modernismo, no nacionalismo e no comunismo, tal como vivenciados em São Paulo e na Universidade entre o final dos anos 1950 e início dos 60 -- é acompanhada no despertar para as dimensões sistêmicas do atraso na indústria da construção civil brasileira: do nível tecnológico até as normas de salário, horário, divisão e cadência do trabalho; da presunção de autonomia do projeto à desqualificação do saber-fazer popular [..]; do investimento planificado, mercantilizado e altamente segmentado à permanência do luxo e da manufatura na produção mais avançada. O livro certamente privilegia esta aproximação marxista à produção da arquitetura na divisão entre trabalho e capital -- em "situação-no-conflito" como diziam os novos. E sem dúvida a reconstituição, ao longo dos capítulos, da gênese e fortuna do livro de Sérgio Ferro, O Canteiro e o Desenho, originalmente publicado na revista Almanaque, entre 1976 e 77, mas elaborado desde 1962 em sua passagem pela FAU [Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP], pelo PCB, pela ALN [Aliança Libertadora Nacional], no Brasil e no exílio, já é um ganho para a interpretação crítica da boa literatura arquitetônica brasileira. Contudo, o percurso não se resume a elas. Misto de história econômico-política e crítica cultural da arquitetura, a sua leitura da pluralidade de aportes "novistas" permite-nos entender o sentido de recusa aos "modismos", "ejaculações arquitetônicas" e alienação "na venda privada de um conhecimento coletivo". A própria economia e racionalização construtiva mostram sua face irracional à luz de um fetichismo da técnica capaz de mascarar a falta de responsabilidade política. Para os "novistas", a formulação de uma poética da economia deveria passar pelo filtro de experiências contemporâneas nas artes. Impunham assim, a produtividade da cena e do fazer com as próprias mãos; o critério dos poucos recursos (inerente ao subdesenvolvimento) contra os modelos acabados dos países centrais; o posicionamento decidido do artista nos interstícios das "relações tensas entre colonizador, seus representantes internos e o colonizado", e a experiência cooperativa e desmercantilizada vivida nos trabalhos grupais com espetáculos e filmes. Abóbodas e Pai totêmico Uma das críticas que se fez à arquitetura praticada por Flávio Império, Sérgio Ferro e Rodrigo Lefèvre foi esta se restringir à encomenda de residências burguesas quando a sua preocupação fundamental encaminhava-se para as necessidades do povo. A abóbada era a resposta. Mais barata, sem o ferro das cascas niemeyerianas, mais simples tecnicamente para uma construção rápida por poucos operários, a abóbada representava ao mesmo tempo um protótipo de democratização da casa paulistana e uma poética para a casa popular. Protegendo os operários na obra, dispensava o desenho a priori e oferecia condições de livre desenvolvimento aos ofícios individuais. Na impossibilidade de a indústria atingir todas as classes, o canteiro participativo somar-se-ia às tentativas de racionalização das técnicas populares no confronto com o altíssimo déficit habitacional. Visto pelos olhos do presente, a solução parece bastante razoável. Contudo, a época levaria à troca da plataforma arquitetônica pelo fuzil. Ora, se o esquema, como notou o crítico Roberto Schwarz no posfácio, "talvez não distinguisse o bastante entre a divisão social do trabalho e a divisão da sociedade em classes", o livro tampouco nos remete ao processo de industrialização e massificação da produção habitacional naqueles anos. Diante da ausência de atores sociais capazes de transformar a política habitacional da ditadura -- que construiu cerca de 2,4 milhões de moradias entre 1964 e 86, com transformações importantes no mercado de terras e na cadeia produtiva da habitação -- as breves referências do autor ao BNH são pouco elucidativas. Do modo como surgem, não permitem apreciar adequadamente o campo de atuação e alternativas profissionais, nem mesmo os impasses do desenho industrial proposto por [Vilanova] Artigas para a produção de habitações populares pelo Estado. Resta-nos apenas o sonho de uma técnica capaz de re-humanizar o trabalho. O curioso é apanhar a história da arquitetura como trabalho, o que aliás é realizado com inesperada vocação de parcimônia no exame de projeto. O próprio mestre Artigas herda respeito quando se trata de olhar a sua obra. Das casas paulistanas (Baeta, Viterito, Berquó, entre outras) aos grandes conjuntos do CECAP [Caixa Estadual de Casas para o Povo, SP], como o Zezinho Magalhães Prado, em Guarulhos, o livro sobre esta geração de irmãos dissidentes é também eloqüente quanto aos temas, partidos, propósitos e problemas colocados por seu pai totêmico. A sua reverência estende-se inclusive à hora da crítica ao desenho, tributária da idéia de afirmação da escola modernista como instauradora de uma nova relação de produção e não o contrário. Haveria por certo outras possibilidades historiográficas para a arquitetura moderna internacional, brasileira ou paulista, mas é este um ponto cego peculiar à sua empreitada: compreender o passado pré-modernista na chave da autonomia ou semi-autonomia operária ou artesã. É a sua própria bibliografia que reconhece a insuficiência da pesquisa sobre a história econômico-política da arquitetura, da divisão do trabalho na construção ou da sindicalização dos construtores no Brasil escravista e proto-republicano. Não haverá aí uma paradoxal reverência ao conceito clássico de projeto impondo-se sobre o fazer artesanal com o advento da arquitetura moderna? Não está aí uma contradição com princípios de história da arquitetura capazes de cancelar ou inverter hierarquias entre arte e ofício, mão e máquina, gênio e engenho, arquitetura e construção? Mutirões e direitos
De partida, uma das coisas que intrigam a leitura é a pressa em estabelecer continuidade entre os representantes da Arquitetura Nova e os novos assessores populares dos movimentos de moradia em São Paulo -- arquitetos, urbanistas, engenheiros, advogados, sociólogos, assistentes sociais etc, sem vínculos com o Estado e as empreiteiras, contratados pelos movimentos, cujo trabalho vem sendo objeto de inúmeras teses acadêmicas desde o final dos anos 1980. Principalmente em relação àqueles envolvidos com a consolidação de um padrão autogestionário nas experiências com mutirões: desde a montagem dos grupos de cooperados, destinação e gestão de recursos públicos, contratação de profissionais, discussão de programas e projetos arquitetônicos, até a regulação do trabalho na construção. Pedro Arantes não desconhece a pluralidade de referências teórico-políticas dos movimentos sociais e organizações não governamentais, e avança no estabelecimento de um instigante roteiro histórico de experiências práticas de aproximação entre vivências de canteiro, ação política, instâncias de formação e atuação profissional e técnica de arquitetos. Ao final, o salto sobre a política habitacional brasileira por excelência rumo aos mutirões autogeridos parece satisfatório no sentido de entender as razões de uma arquitetura comprometida, não apenas com a técnica e o desenho, mas também com as condições de vida e trabalho, os movimentos sociais urbanos e a gestão democrática dos orçamentos públicos. Ainda assim, é visível a tentação de superestimar-se as relações de cooperação nestas formas de canteiro como transgressão do mundo da mercadoria. Pois a despeito dos efeitos reais e sentimentos novos produzidos pela participação popular na arquitetura, a questão do sobre-trabalho na produção e consumo de moradias pelas camadas proletárias não é irrelevante. São as próprias relações entre canteiro e produção social, aliás, que autorizam por exemplo a discussão sobre os direitos do anti-valor, ou mais pragmaticamente, sobre os direitos do trabalho mutirante, entre os quais, a própria dispensa das ocupações profissionais nos dias de construção das casas.
Texto publicado na revista REPORTAGEM nº 42, de março de 2003.
Fonte: Oficina de Informações (www.oficinainforma.com.br).Leia mais sobre o livro em : www.vitruvius.com.br/resenhas/textos/texto048.asp
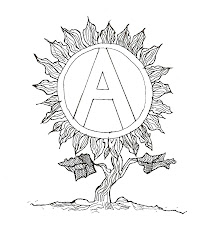
Nenhum comentário:
Postar um comentário